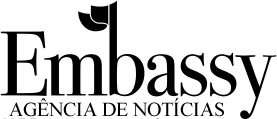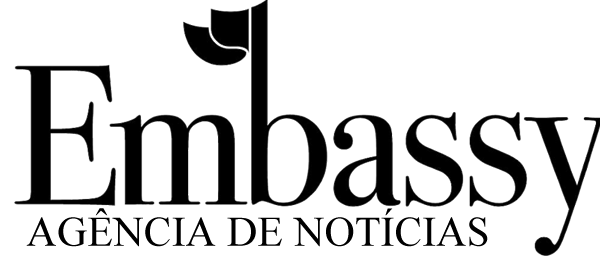Diplomata diz que é injusto comparar a ofensiva israelense à barbárie do Hamas, como fez Lula, e acha que o conflito ainda pode escalar
Com mais de três décadas de estrada na diplomacia, Daniel Zohar Zonshine, 65 anos, já é perito em Brasil, país onde serve pela segunda vez e do qual aprendeu a decodificar a cultura e os os ritos do poder. Sua primeira temporada em Brasília foi como conselheiro, na gestão Fernando Henrique Cardoso, período cuja data exata ele se recorda com a ajuda do futebol. “Cheguei no dia da final da Copa do Mundo de 98 e saí logo depois da Copa de 2002”, conta o flamenguista.
Após passagens por Índia e Mianmar, Zonshine voltou a aterrissar em solo brasileiro em 2021, para chefiar a missão diplomática ainda na era Jair Bolsonaro, que vira e mexe fazia afagos a Israel, e engatou no governo Lula, ao qual diplomaticamente destina ressalvas. Às vezes, também é alvo de críticas, se metendo em polêmicas das quais tenta escapar em um português de leve sotaque lusitano, graças a um tempo trabalhando em Lisboa.
Na entrevista concedida a VEJA por videoconferência, o embaixador analisou o início da libertação dos reféns em poder do Hamas e não se esquivou dos espinhosos temas que o cercam nestes agitados dias.

Recentemente, o presidente Lula afirmou que “Israel também comete vários atos de terrorismo”, igualando a ofensiva do país em Gaza aos ataques de 7 de outubro encabeçados pelo Hamas. A comparação é razoável?
Ela não é justa. Não há base possível de comparação entre Israel e o Hamas. Estamos falando aqui de uma organização terrorista com explícita intenção de exterminar civis, que faz uso de cidadãos como escudo, com um país democrático, reagindo diante da barbárie de um ataque sem precedentes. Repare que a intenção faz toda a diferença: os israelenses não querem matar ninguém. Estão disparando contra alvos legítimos, até quando miram um hospital, já que ali, debaixo da terra, estão entrincheirados criminosos dispostos a tudo.
Tamanho drama humanitário em um pedaço de terra tão pobre e castigado não fere o que estabelece o direito internacional sobre a guerra?
Na minha visão, não. Israel não tem opção neste momento senão eliminar os terroristas, o que está previsto nas normas internacionais. Agora, não dá para curar um câncer com Merthiolate. A guerra é uma coisa feia que ninguém quer, mas esta é necessária e não há como conduzi-la de outro jeito.
O senhor já fez ressalvas ao governo brasileiro por não considerar o Hamas um grupo terrorista, linha que acompanha a de outros países e da própria ONU. Mantém a crítica?
Há várias definições de terrorismo por aí. Podemos gostar delas ou não — o que não dá é para não enxergar a realidade como ela é. Acho possível que a atual leitura da situação esteja contaminada por ideologia. Isso ocorre quando uma certa narrativa colide contra os fatos e a verdade não prevalece.
Como é ocupar o cargo de embaixador num país em que o presidente e assessores tecem críticas ao atual governo de Israel? Há muita saia justa?
Como diplomata, não me cabe outra postura que não me adaptar ao cenário. O que posso dizer é que, desde 1947, Brasil e Israel têm sólida relação. Há muita fofoca, muita gente dando manchete nos jornais, mas nos gabinetes a conversa é outra. A parceria segue. De um governo ao outro, o que muda mesmo é o tom.
Na região, Bolívia cortou relações com Israel e Colômbia e Chile convocaram seus diplomatas a voltar. Isso incomoda Tel Aviv?
Na verdade, não. Nunca tivemos muita relação com a Bolívia, que não é o Brasil, um país muito mais sério.
Por que o senhor, tão cioso dos ritos diplomáticos, se deixou fotografar ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro num evento na Câmara dos Deputados?
A ideia desse encontro ocorreu um mês após os ataques, para exibir aos parlamentares imagens das atrocidades. Nunca iria querer politizar um evento dessa natureza. Bolsonaro é que apareceu ali. E como você vai tirar um ex-presidente da sala? Me adaptei à realidade. Desde o fim do governo, ele me ligou uma vez só, para demonstrar solidariedade depois de 7 de outubro.
Os brasileiros que estavam em Gaza apenas conseguiram deixar o enclave na oitava lista de liberação de civis. Circulou nas rodas do poder que a tensão gerada por declarações de autoridades brasileiras atrasou a saída. Procede?
Posso garantir que Israel não teve nenhuma intenção de adiar a saída dos brasileiros de Gaza. É mais um boato enviesado.
O senhor afirmou que o recrutamento de brasileiros pelo grupo libanês Hezbollah para cometer atos terroristas ocorre aqui “porque tem gente que os ajuda”, sobretudo na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. No que se fia para dizer isso?
Há informações de que o Hezbollah quer aumentar sua influência política, econômica e militar no Brasil. Eles estão de olho no tráfico de drogas na América Latina para financiar suas atividades. Aquelas pessoas que foram presas, segundo a própria Polícia Federal, estavam supostamente envolvidas num plano para atacar judeus em solo brasileiro. Não seria a primeira vez na região: ocorreram dois episódios na Argentina.
Se essa história se confirmar, o Brasil terá de tirar satisfações com o Irã, o grande financiador do Hezbollah?
O Irã tem interesse em se ramificar para além do Oriente Médio. E, sim, se o Hezbollah atua no Brasil, o Irã está certamente por detrás. Caberá às autoridades brasileiras decidir como lidar com os iranianos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, veio a público rechaçar um post do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que atrelava o sucesso da operação no Brasil ao trabalho do Mossad, o serviço de inteligência israelense. Israel extrapolou suas atribuições? Não falamos sobre a atuação do Mossad, mas como o terror e o contrabando de drogas não conhecem fronteiras, evidentemente que há cooperação entre as agências de segurança mundo afora. Sobre as palavras do ministro Dino, só ele pode explicar o que quis dizer.
O senhor adiou um encontro no Rio de Janeiro em que seriam exibidas imagens do conflito, justificando questões de segurança. Pode explicar melhor o que aconteceu?
Não posso dar detalhes, mas espero ter a chance de mostrar aquelas imagens num futuro próximo. De modo geral, me sinto seguro no Brasil.
Mesmo com o início da libertação de um grupo de reféns, o governo Netanyahu vem sendo torpedeado por não colocar o drama que atinge tantas famílias como prioridade zero. Faz sentido?
A verdade é que estamos norteados por duas grandes metas que seguem em paralelo — libertar os reféns e eliminar o poderio militar do Hamas. A complexidade é que elas estão umbilicalmente ligadas. O governo avalia que só a pressão militar, econômica e política pode fazê-los cooperar. Sem isso, não há conversa. É o que explica a libertação desses reféns agora (veja a reportagem na pág. 58).
É possível exterminar o Hamas, visto que jovens castigados pelo conflito são facilmente cooptados para o terrorismo?
Não se pode matar uma ideia — nesse caso, a destruição de Israel —, mas é possível mudá-la. Acabar com o poder militar do Hamas também serve para libertar os palestinos, que vivem sob o jugo dessa milícia em condições sofríveis. A esperança é que entendam que assim não têm horizonte.
Muitos especialistas sérios sustentam que Israel deu força ao Hamas para enfraquecer a Autoridade Palestina e enterrar a ideia da existência de dois Estados. Acha plausível?
É uma teoria interessante, e conheço vozes respeitáveis que a disseminam. Não sei se é verdade, mas, no Oriente Médio, tudo é possível. A paz duradoura não passa necessariamente pela solução dos dois Estados, convivendo lado a lado? É no que acredito, mas agora no longo prazo. O caminho até lá ficou mais difícil. Temos de reconstruir a trilha. A imensa maioria dos jovens assassinados neste trágico 7 de outubro era da centro-esquerda israelense, pessoas que apoiavam o Estado palestino e até agiam em prol da causa. Os ataques atingiram em cheio a solução dos dois Estados.
Um governo de extrema direita, claramente contrário à causa palestina, não é um freio à existência desses dois Estados?
Cada governo tem sua linha, suas prioridades, mas a ideia essencial, da convivência pacífica entre os dois povos, não muda.
Netanyahu sugeriu que não sairá tão cedo de Gaza após a guerra. As conversas estão enveredando por essa direção?
Não. Está claro que Israel não tem nenhuma intenção de reocupar Gaza. Não sei quem cumprirá esse papel, se a Autoridade Palestina ou outras.
Por que a inteligência de Israel, considerada uma das mais eficientes do planeta, falhou de forma tão retumbante?
Foi um erro doloroso. Falhamos claramente na compreensão das intenções do Hamas, apesar de termos as informações sobre sua capacidade bélica e de treinamento. Nas primeiras horas após os ataques, não estávamos sequer prontos militarmente para reagir com a rapidez que a situação exigia.
O senhor aposta na permanência de Netanyahu depois da guerra?
Claro que há forças políticas contra e a favor e terá de haver uma reavaliação do cenário. É muito difícil saber.
Há sinais de que o conflito irá se espalhar pela região?
Sim. Além do interesse do Irã e do Hezbollah, é tudo tão delicado que na fronteira com o Líbano, onde há lançamentos diários de mísseis, se eles fizerem um cálculo ruim e atingirem uma escola nossa, por exemplo, Israel terá de reagir com vigor. Não queremos isso, mas, se preciso, a batalha ganhará uma nova frente.
Em meio ao conflito, observa-se um aumento do antissemitismo. Isso o preocupa?
A guerra trouxe à luz o preconceito latente contra os judeus. Assistimos a demonstrações de aversão a Israel até em Harvard e nas ruas da Europa, onde agitam bandeiras contra a existência do país. E muita gente boa defende o Hamas. Quando alguém pensa dez vezes antes de condenar o terror, não é bom sinal. Também a islamofobia e qualquer outra forma de intolerância devem ser combatidas. Não há paz onde viceja o ódio.
Fonte: Revista Veja