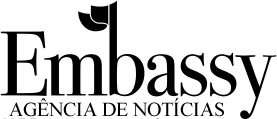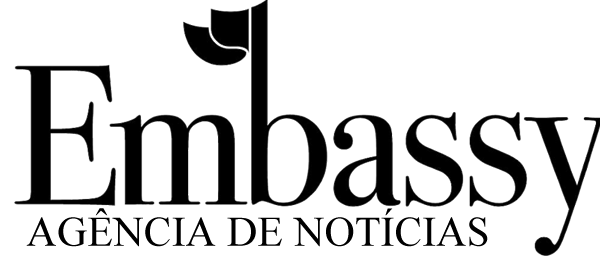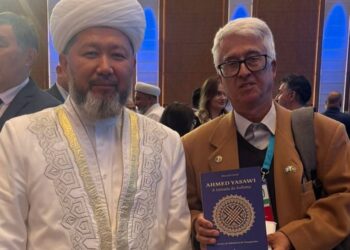LUIZ FELIPE DE SEIXAS CORRÊA
Com a globalização, a diplomacia passou a estar presente em praticamente todos os campos da atividade humana
O sistema internacional nasceu e continua predominantemente marcado pelas relações de poder. Quem tem poder, manda. Quem não tem se conforma em obedecer ou é forçado a buscar alianças que o fortaleçam. A chamada era Trump está a nos levar por este perigoso caminho
Não foram poucas as tentativas no século XX de relativizar esse conceito: os 14 pontos de Wilson e a Carta da ONU, para citar apenas os mais ilustrativos. Ambos acabaram submetidos à realidade pouco ética dos interesses nacionais.A ética serve de modelo para a organização internacional. Em seu nome busca-se reprimir atos ou decisões que reflitam interesses unilaterais dos parceiros mais fortes.
Entre a ação e seu resultado, tenta-se, em circunstâncias normais, o que veio a ser chamado de diplomacia. Diplomacia preventiva — usada para impedir a ação da força — e diplomacia conclusiva — usada para minimizar os efeitos do uso da força ou prevenir novas situações que o provoquem. São infindáveis as variedades de medidas que podem ser empregadas antes, durante ou depois do uso da força. A guerra usualmente dá-se quando essas medidas, aos olhos do atacante, esgotam-se e a intimidação não surte o efeito desejado. De alguma forma pode-se simplesmente dizer que a ética, o convencimento, os meios pacíficos precedem eventuais agressões com uso de força. Algumas vezes têm êxito e impedem — mediante a intimidação — a guerra. É quando se obtém uma solução pacífica da controvérsia. Um lado cede ao fazer as contas e perceber que não teria recursos efetivos para enfrentar o conflito e muito menos vencê-lo. Em outras situações, o lado atacado prefere imolar-se a perder a honra. Deixa-se arrasar.
São raros — mas existem — os casos em que, defrontado com uma agressão iminente, um país consegue negociar uma solução equilibrada para o conflito. É tudo uma questão de poder ou não poder. Algo que se aprende desde logo no ofício da diplomacia é que nada se resolve mediante generosidade. A parte que insinua generosidade num conflito é tida como fraca e fica, portanto, mais vulnerável.
Atribui-se a um analista francês, Le Prosne, uma descrição da diplomacia como certa arte obscura que se esconde nas entranhas do fingimento, que não se deixa ver e que acredita que só pode existir na escuridão profunda dos mistérios. Há outras descrições que também acentuam o lado, por assim dizer, vil da diplomacia: “um Embaixador é um homem honesto que é mandado para o exterior a fim de mentir pelo bem de seu país”; “um Embaixador é um homem capaz de mandar seu interlocutor para as profundezas do inferno e fazê-lo antecipar o prazer da viagem.”
Justamente nos anos 60, quando eu me preparava para o ingresso na carreira, muitos analistas previam o declínio e o fim da diplomacia. O telefone vermelho entre Washington e Moscou tornaria tudo mais fácil, menos complicado, menos envolto em punhos de renda. Por um tempo minha geração temeu haver entrado para uma carreira condenada de antemão.
Pois aconteceu exatamente o contrário e os contatos instantâneos de cúpula muitas vezes criaram mais problemas do que resolveram e foram os aparatos diplomáticos que acabaram tendo que desenredar as situações mais complicadas. Além do mais, com a gradual expansão das atividades internacionais e posteriormente com a chamada globalização, a diplomacia passou a estar presente em praticamente todos os campos da atividade humana. Não mais apenas a paz e a guerra, mas todo um campo de atividades e decisões antes desreguladas: transações financeiras, comércio, investimentos, meio ambiente, ciência e tecnologia, direitos humanos. E muito mais….
Os ministérios cresceram e os diplomatas passaram a ter que lidar com temas que tradicionalmente estavam fora de seu alcance. Tornamo-nos, segundo algumas línguas maldosas, “especialistas em assuntos gerais”. As carreiras ao mesmo tempo se profissionalizaram e os aparatos diplomáticos cresceram, inclusive em função do aumento do número de países soberanos. Outro aspecto que mudou foi o da relação entre a diplomacia e os serviços de informação. Antes, os segundos estavam integrados à primeira. Pouco a pouco foram se especializando e se separando. Hoje, muitas vezes, entram em conflitos internos.
Abba Eban, ex-ministro das Relações Exteriores de Israel e extraordinário pensador em matéria de relações internacionais, diz em seu livro sobre a Nova Diplomacia, que os diplomatas, quando não estão se queixando de sua impotência, ficam reduzidos a ouvir reflexões a respeito dos defeitos morais de sua profissão. Stalin disse certa vez que “falar de ‘diplomacia honesta’ é como falar de água seca”.
Na verdade, a diplomacia (mesmo não conhecida por esse nome) vem da noite dos tempos. A Bíblia refere-se a inúmeros casos de reis, rainhas, generais, príncipes que trocavam mensagens com seus pares em suas regiões. A imunidade começou mesmo nessa época, de vez que as mensagens podiam ser frequentemente agressivas ou injuriosas. Algumas vezes era respeitada. Outras não, dando-se ao portador de más notícias a pena máxima.
As tradições diplomáticas modernas começaram a tomar corpo na Grécia. Foram os gregos clássicos que criaram termos como “armistício”, “arranjos”, “tréguas”, “alianças”, “convenções” e “paz”. Foram os gregos que começaram a usar procedimentos de arbitragem. Abba Eban recorda que o elemento central da diplomacia grega era o “patriotismo”: “minha cidade acima de tudo!”
Os romanos levaram a diplomacia a dar um passo adiante. Os enviados passaram a se imiscuir na vida das cidades em que estavam acreditados e a enviar relatórios para seus superiores. Essa tradição é que deu margem à reputação vigente até hoje de os embaixadores não deixarem de ser espiões.
Mas foram os italianos na Renascença que tornaram comum a prática dos Embaixadores residentes. Desde então, a suprema ética do diplomata — e volto a Abba Eban — é a “razão de Estado”. Maquiavel sustenta que os padrões pelos quais se medem a moralidade de um indivíduo — a ‘ética’ — não se aplicam aos atos do Estado.
Com o colapso do sistema italiano de equilíbrio de poder, seus métodos foram de certo modo incorporados pelos poderosos reinados em processo de unificação na Europa. Grotius falava de “um sentido de justiça e de razão” como base para a cooperação entre os Estados. Richelieu, sob Luis XIII na França, estabeleceu um Ministério das Relações Exteriores. A prática espalhou-se pela Europa. Acabaram incorporadas pelo Congresso de Viena de 1815 que reorganizou o mundo após a queda de Napoleão. A estabilidade passaria a ser mantida pelo Concerto da Europa (Áustria-Hungria, Grã Bretanha, França, Prússia e Rússia), antecedente remoto do Conselho de Segurança da ONU, com praticamente o mesmo sistema hierárquico.
Ficou assim, de certa forma, assegurada uma expressão formal do sistema de “equilíbrio de poder” (balance of power, em inglês). Não se falava então em ética nas relações internacionais. O poder reinava e a paz seria garantida pelo seu equilíbrio.
As guerras Franco-Prussiana, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais destruíram, porém, esse equilíbrio. E acabaram dando margem a que, assegurado o equilíbrio alterado que emergiu desses conflitos, se buscasse trazer para o centro do sistema, considerações e práticas ligadas à ética, assim como a chamada diplomacia pública.
A peça introdutória desse novo período foram os 14 pontos de Wilson lançados pelo presidente norte-americano ao final da Primeira Guerra. Já no princípio, Wilson expressava uma utopia: “Acordos públicos, negociados em público, depois dos quais não mais haveria entendimentos internacionais privados de qualquer natureza; a diplomacia será sempre franca e transcorrerá em público.”
Pode-se dizer que começou então a fase em que nos achamos até hoje. Uma diplomacia pública e ética encarnada pelas organizações internacionais em coexistência com a diplomacia secreta, tradicional, amparada na ameaça e/ou no uso da força. Não há dúvida de que é imperioso obter uma moralidade internacional compartilhada. E que, portanto, a implantação de uma ética social efetiva deve incorporar os modos de praticar as relações entre os países.
Mas o que se vê é que a própria Carta da ONU, ao criar o Conselho de Segurança com 5 membros permanentes com direito a veto, colocando-o, portanto, acima da Assembleia Geral, onde tudo é decidido por voto majoritário, sacramentou a desigualdade nas relações internacionais. Em seu Guerra e Paz: uma teoria das Internacionais, Raymod Aron é enfático: “As relações internacionais sempre foram reconhecidas por todas as nações pelo que efetivamente são: relações de poder! No nosso tempo, porém, alguns juristas estão intoxicados por conceitos e alguns idealistas confundem seus sonhos com a realidade”.
Onde fica em tudo isso a ética? É a pergunta que me faço e tenho dificuldade em responder. Fica no espaço? Na mente das pessoas? Nas instituições coletivas? Ou fica nos arsenais nucleares das grandes potências? Fica no Iraque, na Líbia, na Síria, na Ucrânia? Fica em Cuba? No Kremlin? Na Casa Branca? Nas regiões pobres da África, da Ásia, das Américas?
Difícil, talvez impossível, de responder. Minha impressão é de que a ética fica na consciência das pessoas que se preocupam com as desigualdades que caracterizam o mundo, com a violência, com a fome, a falta de segurança. Uma ética idealizada. Uma utopia. Um dever ser. A consciência universal. É sempre bom tê-la presente!
Lembro-me de uma das máximas de Montesquieu: “Se eu soubesse de alguma coisa que me fosse útil e que fosse prejudicial à minha família, eu a rejeitaria. Se eu soubesse de alguma coisa que fosse útil à minha família e que não o fosse para minha Pátria, eu tentaria esquecê-la. Se eu soubesse de alguma coisa que fosse útil à minha Pátria, mas que fosse prejudicial à Europa e ao gênero humano, eu a tomaria por um crime”. São palavras que expressam um sonho, uma utopia. e bem traduzem os dilemas característicos da dualidade Guerra e Paz.
Assim sucede nestes momentos que estamos vivendo. Os EUA sob uma liderança despreparada e convencida de sua autossuficiência. A Rússia aproveitando-se dessa situação e do Brexit para recuperar espaços perdidos na sua periferia. A China tão bem sucedida econômica e socialmente busca exercer a influência que tem para evitar conflitos maiores. E a UE, às voltas com eleições na França e na Alemanha, aparentemente nunca esteve tão debilitada.
Um país completamente fechado, a Coreia do Norte, sente-se confortável ameaçando direta ou indiretamente os principais atores do sistema. A esquerda latino-americana se decompôs com os acontecimentos no Brasil e na Argentina, e com a debilidade exposta da Venezuela. Mas ainda não surgiu a liderança e não está clara a mensagem que estes nosso tempos carregam. São esses historicamente sinais de descontrole que podem desencadear tragédias.
É hora de fortalecer a negociação diplomática. É profundamente penoso ver o Brasil — sempre tão atuante nos grandes momentos de transformação multilateral — completamente à margem, envolto que está na sua tragédia interna. Praticamente inerte no plano internacional. Nem mesmo se interessa mais por pertencer ao Conselho de Segurança da ONU. Como que desaparecemos! Não pensei que fosse ver este período.
Luiz Felipe de Seixas Corrêa, 53, é secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores. Foi embaixador do Brasil na Argentina (1997-98), no México (1989-92) e na Espanha (1993-97).